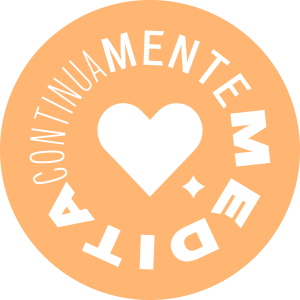Da primeira vez, foi numa floresta no norte da França. Eu tinha vinte e cinco ou vinte e seis anos. Ensinava filosofia, era meu primeiro colégio, numa cidadezinha perdida no meio do campo, à beira de um canal e de uma floresta, não longe da Bélgica. Naquela noite, depois do jantar, fui passear com uns amigos, como tantas vezes, naquela floresta de que tanto gostávamos. Era noite. Caminhávamos. Os risos pouco a pouco cessaram; as palavras tornavam-se raras. Restava a amizade, a confiança, a presença compartilhada, a doçura daquela noite e de tudo… Eu não pensava em nada. Eu olhava. Eu escutava. A escuridão da floresta em volta. A incrível luminosidade do céu. O silêncio rumoroso da floresta: alguns estalos das ramagens, alguns gritos de animais, o ruído surdo dos nossos passos… Isso tornava o silêncio mais audível ainda. E de repente… O quê? Nada: tudo! Nenhum discurso. Nenhum sentido. Nenhuma interrogação. Apenas uma surpresa. Apenas uma evidência. Apenas uma felicidade que parecia infinita. Apenas uma paz que parecia eterna. O céu estrelado acima de mim, imenso, insondável, luminoso, e nada mais em mim além daquele céu, de que eu fazia parte, nada mais em mim além daquele silêncio, daquela luz, como que uma vibração feliz, como que uma alegria sem sujeito, sem objeto (sem outro objeto, a não ser tudo; sem outro sujeito, a não ser ela), nada mais em mim, na noite escura, além da deslumbrante presença de tudo! Paz. Imensa paz. Simplicidade. Serenidade. Alegria. Estas duas últimas palavras parecem contraditórias, mas não eram palavras: era uma experiência, era um silêncio, era uma harmonia. Aquilo era como uma fermata, mas eterna, num acorde perfeitamente afinado, que seria o mundo. Eu me sentia bem. Eu me sentia espantosamente bem! Tão bem que não sentia mais a necessidade de dizer isso a mim, nem mesmo o desejo de que aquilo continuasse. Não mais palavras, não mais carência, não mais espera: puro presente da presença. Mal posso dizer que passeava: não havia nada mais que o passeio, que a floresta, que as estrelas, que nosso grupo de amigos…
Não mais ego, não mais separação, não mais representação: nada além da apresentação silenciosa de tudo. Não mais juízos de valor: nada além do real. Não mais tempo: nada além do presente. Não mais nada: nada além do ser. Não mais insatisfação, não mais ódio, não mais medo, não mais cólera, não mais angústia: nada além da alegria e da paz. Não mais comédia, não mais ilusões, não mais mentiras: nada além da verdade que me contém, que eu não contenho.
Durou talvez alguns segundos. Eu estava ao mesmo tempo perturbado e reconciliado, perturbado e mais calmo que nunca. Distanciamento. Liberdade. Necessidade. O universo enfim restituído a si mesmo. Finito? Infinito? A questão não se colocava. Não havia mais questão. Como haveria respostas? Havia tão-somente a evidência. Havia tão-somente o silêncio. Havia tão-somente a verdade, mas sem frases. Tão-somente o mundo, mas sem significação nem finalidade. Tão-somente a imanência, mas sem contrário. Tão-somente o real, mas sem outro. Nada de fé. Nada de esperança. Nada de promessa. Havia tão-somente tudo, e a beleza de tudo, e a verdade de tudo, e a presença de tudo. Isso bastava. Isso era muito mais que bastante! Aceitação, mas jubilosa. Quietude, mas estimulante (sim: era como que uma inesgotável coragem). Descanso, mas sem cansaço. A morte? Não era nada. A vida? Não era nada mais que essa palpitação, em mim, do ser. A salvação? Não era nada mais que uma palavra, ou então era aquilo mesmo. Perfeição. Plenitude. Beatitude. Que alegria! Que felicidade! Que intensidade! Digo comigo mesmo: “É isso que Espinosa chama de eternidade…”. Esse pensamento, como se pode imaginar, a fez cessar, ou antes, me expulsou dela. As palavras retornavam, e o pensamento, e o ego, e a separação… Não tinha importância: o universo continuava lá, e eu com ele, e eu dentro dele. Como poderíamos cair fora do Todo? Como a eternidade poderia terminar? Como as palavras poderiam sufocar o silêncio? Vivi um momento perfeito – o bastante para saber o que é a perfeição. Um momento feliz – o bastante para saber o que é a beatitude. Um momento de verdade – o bastante para saber, mas por experiência própria, que ela é eterna.
“Sentimos e experimentamos que somos eternos” , escreveu Espinosa na Ética – não que seremos, depois da morte, mas que somos, aqui e agora. Pois bem: eu havia sentido e experimentado isso, de fato, e isso causou em mim como que uma revelação, mas sem Deus. Foi o mais belo momento que vivi, o mais regozijante, o mais sereno, e o mais evidentemente espiritual. Como as preces da minha infância ou da minha adolescência, em comparação, me parecem irrisórias! Palavras demais. Ego demais. Narcisismo demais. O que vivi naquela noite e o que outras vezes tive ocasião de viver ou de me aproximar foi, antes, o contrário: como que uma verdade sem palavras, como que uma consciência sem ego, como que uma felicidade sem narcisismo. Intelectualmente, não vejo nisso nenhuma prova do que quer que seja; mas não posso tampouco fazer como se isso não houvesse acontecido.
Juntei-me novamente aos meus amigos, que eu havia deixado se distanciarem um pouco. Não lhes disse nada sobre o que havia vivido. Tivemos de voltar. Minha vida seguiu seu curso como antes, ou melhor, continuou a segui-lo. Deixei a eternidade continuar sem mim… Não sou dos que sabem habitar duradouramente o absoluto. Mas, enfim, ele tinha me habitado, no lapso de um instante. Eu havia compreendido enfim o que era a salvação (ou a beatitude, ou a eternidade: pouco importam as palavras, já que não se trata mais de discurso), ou antes, eu a tinha provado, sentido, experimentado, e isso agora me dispensa de buscá-la.

fonte do texto:
COMTE-SPONVILLE, André. O espírito do ateísmo: introdução a uma espiritualidade sem Deus. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2016. p.146-149.
Disponível em <https://www.martinsfontespaulista.com.br/o-espirito-do-ateismo-782335/p>